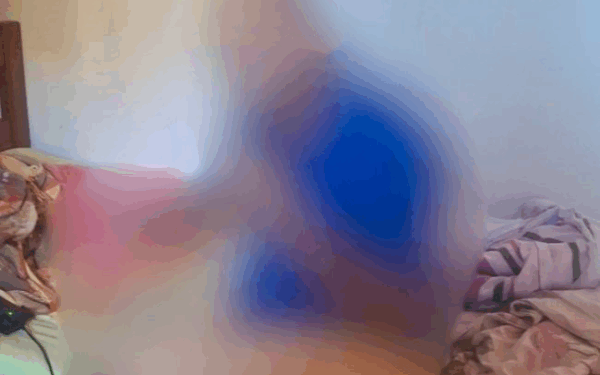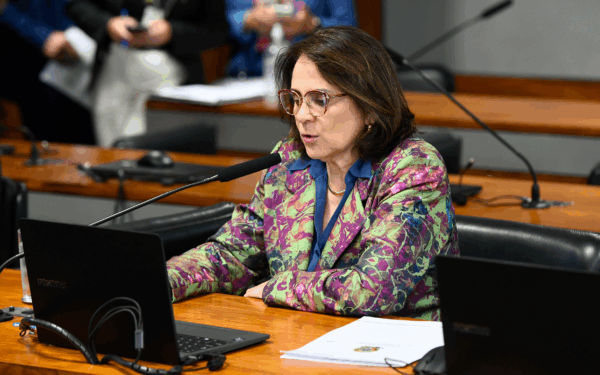Vivendo em Taguatinga (TO) na década de 1960/70

Por Jefferson Victor,
Quem for dessa época certamente viajará ao passado e irá reviver os anos dourados da sua infância. Taguatinga, cidade do interior de Goiás, era desprovida de asfalto, televisão, telefone ou qualquer outra marca de progresso.
Carros podiam ser contados nos dedos. O ônibus da Paraíso era o transporte e buzinava lá no alto para anunciar sua chegada. A viagem até Brasília era incerta e podia durar dias. A passagem tinha que ser comprada com semanas de antecedência. A capacidade era de 35 lugares, mas a lotação chegava a até 80 pessoas espremidas, com gente sentada até na capa do motor. Mesmo quente, muitos arriscavam.
Não havia água encanada, apenas uma caixa com três torneiras, onde se formavam enormes filas para encher vasilhas. Luz era artigo de luxo, privilégio para poucos.
A diversão ficava por conta do bar de Joamy, que vendia cerveja e picolé. Ele era cruel com os engraxates, jogando suas caixas no meio da rua. Lembro dos cartazes pregados nas paredes à procura de “terroristas”, que na verdade eram os que se opunham ao regime ditatorial.
Havia o bar de Dino Ribeiro, com mesa de sinuca; o bar de Manoel de Vitória, com cerveja de geladeira, pinga da terra e cigarros da Souza Cruz; e o bar de Luzia de Celso, que não me lembro se era sorveteria também.
A loja A Caçula de Lourenço distribuía brinquedos no Natal para crianças pobres. A loja de Otaviano vendia confecções, botões, zíperes e roupas prontas. Clides era o atendente, muito brincalhão.
Existia o curral da matança, onde urubus faziam nuvens, tantos eram que atacavam até a carne no varal para secar. O açougue municipal tinha vários açougueiros utilizando o espaço. Carne era sob encomenda e formavam-se filas nas madrugadas. Belmiro ia cedinho comprar carne e, se ele não comprasse, era porque desconfiava da qualidade. Saía calado e aí muitos desistiam da compra.
Pão tinha que ser levado em vasilhas e era comum vir comendo o miolo. Café era torrado e moído na hora, arroz tinha que ser pisado, e milho também. Depois de muito tempo apareceu o café Três Poderes empacotado.

Leite era com minha vó Guedinha, só para freguesia que já deixava o recipiente de véspera. Iró tinha caminhão e trazia mercadoria de Barreiras, e abriu um armazém no mesmo local. Bello, Onezíbulo e Pedro Mineiro tinham armazéns de secos e molhados, onde cereais eram vendidos por litro. Tinha o hotel de Celuta e outro de Ceci e Genésio, que eram o que havia de melhor na época.
Fogão era a lenha, trazida em cargas de jumento, muitas vezes tomadas pelo meu bisavô, Miguel do Carmo, quando tiradas em suas terras. Meu pai, João Victor, também vendia angico e timbó, transportadas em trator, madeira farta na época.
Balinha era chamada de caramelo, a mais famosa era a Nilva, também tinha ping pong, que demorava para acabar o doce; às vezes, ia dormir guardando para mascar no outro dia. Refrigerante era guaraná Jaó, Crush, Grapette e Mirinda, e furávamos a tampa com prego para não acabar logo.
Agora a meninada era uma atração à parte. Se tinha algum santo, só se fosse no sobrenome. Amarravam malva no carreiro do fervedor para ver mulheres caindo com pote. Tomavam banho na barragem, que era a fonte que abastecia a caixa. Molvan era o vigia, e a molecada ficava escondida esperando ele ir almoçar. Aí tinham duas horas de lazer e ficava alguém de sentinela para dar o alarme.
A grama da Praça da Matriz era proibida para jogar bola. Seu Henrique era o fiscal da prefeitura e confiscava a bola. Depois de muita negociação, ele devolvia com a condição de jogarem em outro local. Trato feito e promessa quebrada: era sair e o jogo recomeçava.
Na saída de Dianópolis, meninos cavavam o barranco. Uma vez soterrou Liberatinho, juntou muita gente e ele foi resgatado. Teve um abençoado que uma vez capturou abelhas arapuá, aquelas que grudam no cabelo, e soltou na sala de aula. Fomos liberados para ir para casa mais cedo.
Na construção do Colégio Aureliano, estava a gurizada jogando bola lá dentro. Quando olharam para a porta, lá estava Clarim papudo com uma faca na mão. Tinha uma única saída. Ele tinha furado “Antônio Zoim” e estava preso. Uns 50 meninos tentaram sair de uma vez, muitos saltaram pelo vão do vitrô no ponto mais alto e se machucaram. Eu fui um deles, caí e ainda soltei um tijolo no meu pé.
Chegou helicóptero dos americanos, foi um alvoroço. Poucos conheciam, foi para o lado da caixa d’água. A meninada correu para lá, ele pousou no campo, foi uma correria, era inédito. Eles soltavam balões para estudos meteorológicos. Lembro de um deles, o David, que me pagava para encher tambor de água e fazer compras. Trazia para mim brinquedos dos EUA.

Pegar caju era no aeroporto. Dava as primeiras chuvas e o povo invadia a mata para colher, chupar e fazer doce. Garotada brincava de pião, infinca, carrinho feito de lata de óleo, enxurrada, pipa, biloca, salve cadeia, bacondê, uva, pêra, maçã.
Lembro de Dodô, que fazia cadeira de couro. Ele tinha um curtume na estrada do Brejo. Seu Manoel Felis vendia manga coco. Quando acabava, ele dizia: só “paroano”.
Padre José era uma fera, tinha como maior amigo o senhor Miguel do Carmo. Sentavam na porta do sobrado para prosear. O velho soltava flatulência que se ouvia à distância, não respeitava o religioso.
Próximo ao Colégio do Padre tinha ninho de urubu, era um areião. João Coró costumava ficar por lá e sofria com os estudantes que jogavam pedras nele.
O cinema de Neco era alvo dos meninos, que furavam a parede dos fundos para assistir aos filmes. A formatura do Dr. Antônio teve festa ao ar livre na porta da casa do pai. Eu e outros caras de pau sentamos em uma mesa, desconfiados que iriam nos correr de lá. Mas, para nossa surpresa, nos serviram normalmente. Foi uma farra.
Tirar coco era com Dedê de Albertina. A comissão era de cada quatro, um. Era irmão de Mirtes, a menina mais atentada na época. Rochinha era dentista prático, o terror dos pequenos. Arrancava dentes, e de longe se escutavam choros.
Tia Laura, um amor de pessoa, e tia Brasília teciam renda, com uma prática invejável. Tio Tarcílio vendia laranjas de fazer doce, do tamanho de uma bola de futebol. A segurança ficava por conta de Sanção e Joaquim Soldado. Os dois colocavam ordem na cidade.
O juiz era Dr. Nilton, coroa grisalho, um caipora, fumava um cigarro atrás do outro. Na Sexta-feira Santa à noite tinha os caretas, que batiam impiedosamente em quem arriscava sair nas ruas. Donos de galinhas dormiam vigiando puleiros, era tradição roubo dessas aves nesse dia para galinhada. O Judas era malhado em frente à igreja. Ele roubava carros que amanheciam estacionados ao seu lado. O testamento era lido por alguém que nunca divulgava quem escrevia.
Quando moradores viajavam para Goiânia e queriam mandar notícias, recorriam ao programa Moraes Cesar pela rádio Brasil Central. Quando chegava circo, a meninada gritava para o palhaço deixar entrar de graça. Uma vez o trapezista caiu em cima das pessoas sentadas nas cadeiras, e uma senhora saiu machucada.
Como esquecer de Estêva, que dava palpites na casa dos outros? “Tie” andava na ponta do pé direito, falava alto e com dificuldade, conhecia todas as casas da cidade. Fuxico era com ele mesmo.
No bar no “Sucruriu” de “Zé Pois É”, lembro de um sucuri enrolado em uma galinha dele, que matou na hora. O barbeiro era “Nego Veio”, cortava cabelo e falava de suas aventuras no céu.
Em 1970, quando o Brasil foi tricampeão, o povo comemorava nas ruas. O Dr. Carlos, médico italiano, ameaçou jogar seu SP2 para cima do pessoal por ter passado a bandeira brasileira no carro dele.
A piabanheira, uma árvore centenária, talvez a mais grossa do município, era um símbolo da cidade e foi cortada sob protesto da população local. A Praça da Matriz era cheia de mangubas, que também foram derrubadas.
O rio Abreu era local de piqueniques. A água era muito corrente, mas ninguém se afogava. O Badalo era um bar e danceteria, não cheguei a frequentar, mas era o ponto de encontro da cidade.
Não poderia esquecer de Zé Aleijado, uma figura notável. Ele andava de quatro pés, era adulto mas vivia no meio da meninada, jogava no gol; pensa num cabra valente. Vizinha da prefeitura, dona Joana às vezes ficava nervosa e fazia discurso do seu jeito na porta de sua casa.
Costura era por conta de minha tia Ely e Enésia. Dona Ana de Clides tocava piano na igreja, era uma senhora de fino trato. Eu tinha uns 16 anos, tocava violão, e quando ia em Taguatinga, reunia uma multidão para me ouvir. Tocador naquela época era novidade.
Oliveira, namorando uma moça parente de seu Waldemar, me chamou para fazer uma serenata. Topei. Estava tocando quando a porta se abriu, olhei para trás e todo mundo correu, inclusive Oliveira.
Pedi desculpas ao seu Waldemar, fui recolhendo o violão para ir embora, ele educadamente me agradeceu, dizendo que durante sua existência na cidade, aquela era a primeira vez que alguém fazia uma serenata. Me agradeceu e aí a turma escondida mostrou a cara. Ele nos convidou para entrar, dona Deusinha levantou e continuamos a farra regada a vinho, queijo e muita música. Amanhecemos o dia.
Ver Ziquinho jogar bola era um privilégio, o maior craque da região. Uma vez, pessoal de Dianópolis mandou um avião buscá-lo para jogar contra Barreiras. Nos dias de hoje, ele seria titular da seleção brasileira. Gente, é muita lembrança boa, toda história daria um livro.
Mudei em 1971, mas em 1975 estudei a quinta série em Taguatinga porque Campos Belos tinha que fazer admissão. Eu era colega de aula de minha tia Laury e, no intervalo, vendíamos pirulitos.
Neste longo texto, não poderia esquecer de meu vizinho, amigo e parceiro Jurandir Cordeiro, o Juranda do padre, que Deus o tenha em um bom lugar. Apesar das adversidades que a política proporcionava, mesmo eu sendo criança, tive uma infância feliz na terra em que nasci em abril de 1961.