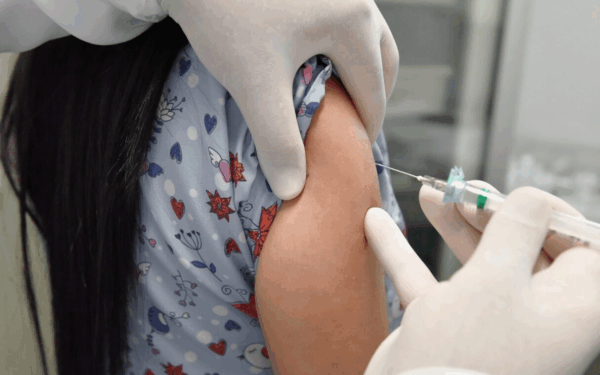Sabor kalunga: o precioso dendê
 |
| Adicionar legenda |


Uma das principais romantizações que se faz da história brasileira é a contribuição dos povos africanos escravizados para a gastronomia nacional:
Segundo a acadêmica, a ideia de que o país foi nutrido, ao longo de séculos, por mãos negras, diz não só pelos trabalhos em lavouras ou em cozinhas, mas sobretudo nos formatos de economia comunitária criados por essas pessoas.
Relação com a terra
Para Lourence, a discussão sobre a influência da cultura africana na gastronomia brasileira tem muito a ver com a relação que povos originários – africanos e ameríndios – têm com a terra e com a natureza.
Proprietária do Crioula Café, no Guará, a contadora Helena Rosa teve uma infância muito diferente da maioria de seus clientes: nascida e criada no quilombo calunga de Cavalcante (GO) ela relata uma vivência voltada para a alimentação e para o cuidado com a natureza.
Helena relata que por ali, não tinha produto industrializado: o óleo para cozinhar era de coco, feito pela família.”
E o que falta?
Casos como o de Melanito e o de Helena não são comuns no Brasil: os chefs de cozinha reconhecidos, estrelados, que aparecem na televisão falando de comida brasileira são, em sua maioria esmagadora, brancos.
“Acredito que isso acontece porque temos um resquício muito forte da colonização. Nós vivemos em um dos países mais preconceituosos do mundo, tanto em relação a raça, quanto a gênero, quanto a credo, é tudo. Aqui tem essa coisa do oprimido que ascende em classe social e oprime.