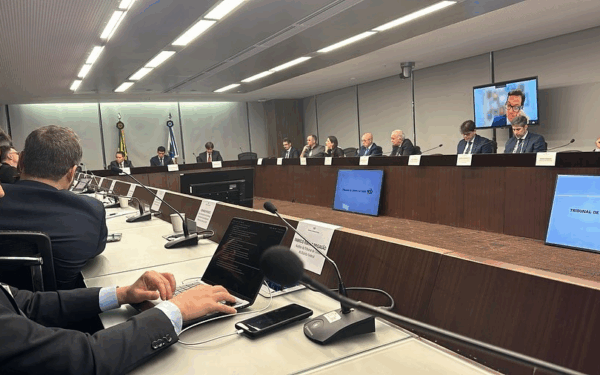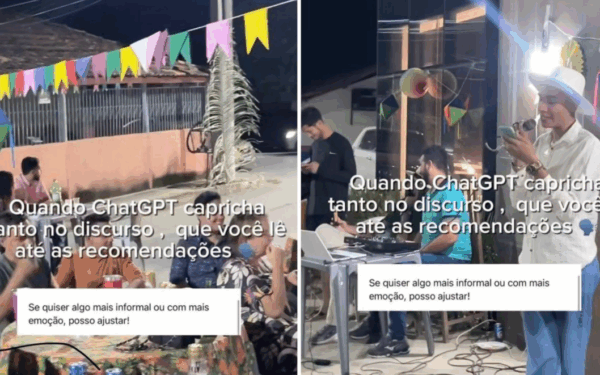Danuza Leão: texto infeliz e preconceituoso

A jornalista Danuza Leão, que há muitos anos escreve para vários jornais do país, parece que perdeu a noção ou deve estar morando em Marte. Só pode!
Danuza, que também é escritora, é irmã da cantora Nara Leão e foi casada com o histórico jornalista Samuel Wainer, fundador do extinto jornal Última Hora.
Ao tentar descrever a degradação que passa o centro da cidade Rio de Janeiro, foi totalmente infeliz, escrevendo um texto preconceituoso e fora da realidade.
Nas entrelinhas, o texto nos informa que Danuza parece não conhecer a sua própria cidade e muito menos o povo do nosso querido nordeste.
Leiam o que ela escreveu na Folha de São Paulo, um dos jornais mais importantes do país, e tirem suas próprias conclusões:
“Outro dia tive que ir ao centro da cidade, onde não ia havia anos.
Conheci esse centro quando ainda era criança e tinha chegado do Espirito
Santo para viver no Rio.
Na zona sul não havia lojas, ainda não
existiam as butiques, e uma vez por semana ia com minha mãe ao centro.
Era onde se faziam compras, desde as mais banais, até as mais
importantes, que na época era um par de sapatos ou o tecido para fazer
um vestido. Não existiam vestidos prontos, e cada família tinha sua
costureira.
Comprava-se o figurino (revista de moda), a costureira dizia
de quantos metros precisava, fazia-se uma prova, e um dia chegava um
embrulho de papel cor de rosa, fechado com alfinetes –o durex ainda não
tinha sido inventado–, trazendo o vestido.
Era uma emoção ir ao centro, onde havia um comércio que me parecia o
luxo dos luxos.
Havia até lojas que vendiam casacos de pele, e imagino
que fazia frio no Rio para usar peles –devia fazer–, pois as vitrines
das lojas Canadá e Sibéria mostravam as mais lindas.
Depois das compras, um lanche na Colombo, e a volta para casa de bonde.
Era um dia completo, de total felicidade.
Foi lá que pela primeira vez
tomei um sundae e comi uma coxinha de galinha; em Vitória não existiam
essas coisas chiques.
O mundo mudou, há anos não ia ao centro, mas tive que ir, semana
passada. Passei pelas mesmas ruas e me deu uma tristeza tão grande que
era melhor não ter ido.
Fui parar no largo da Carioca; é um largo, como diz a palavra, onde hoje
as lojas são barraquinhas, e havia uma que, para animar, tocava um som
bem alto. Das músicas, nem vou falar.
Mas o que me impressionou mesmo
foi a quantidade de pessoas que circulava por ali. Eram muitas e todas,
absolutamente todas, muito pobres.
Em qualquer bairro do Rio existe gente pobre, mas não tantas assim, nem
tão pobres. Era uma miséria absoluta, que se via nas roupas, nos sapatos
–a maioria com uma sandália havaiana já bem usada– e nos rostos.
Muitas lanchonetes pela rua, e numa delas o cartaz:
“Arroz, feijão e batata frita por R$ 10,50”.
Fiquei pensando nos pobres do Nordeste, que se veem na televisão e em
alguns filmes brasileiros; eles moram em casebres com chão de terra
batida, sempre muito bem varrido.
E têm uma dignidade; não sei bem de
onde ela vem, mas ela existe. Talvez por terem um pedacinho de chão só
deles, talvez.
A pobreza urbana é agressiva; são mulheres com uma criança no colo, duas
pela mão, levadas pelas mães porque não têm com quem ficar,
adolescentes de short e camiseta que devem ser a única roupa que têm.
Ninguém pedia esmola, todos estavam ali fazendo alguma coisa,
trabalhando, encarando um bico qualquer, talvez de ambulante, talvez de
ajudante de camelô.
E notei que apesar dessa miséria tão evidente, tão dramática –essas
pessoas não pertenciam, seguramente, à tão falada classe C–, quase
todas as mulheres, e as crianças que iam junto, tinham as unhas dos pés
pintadas de esmalte colorido.
E me ocorreu que talvez seja esta a única fantasia a que têm direito”.